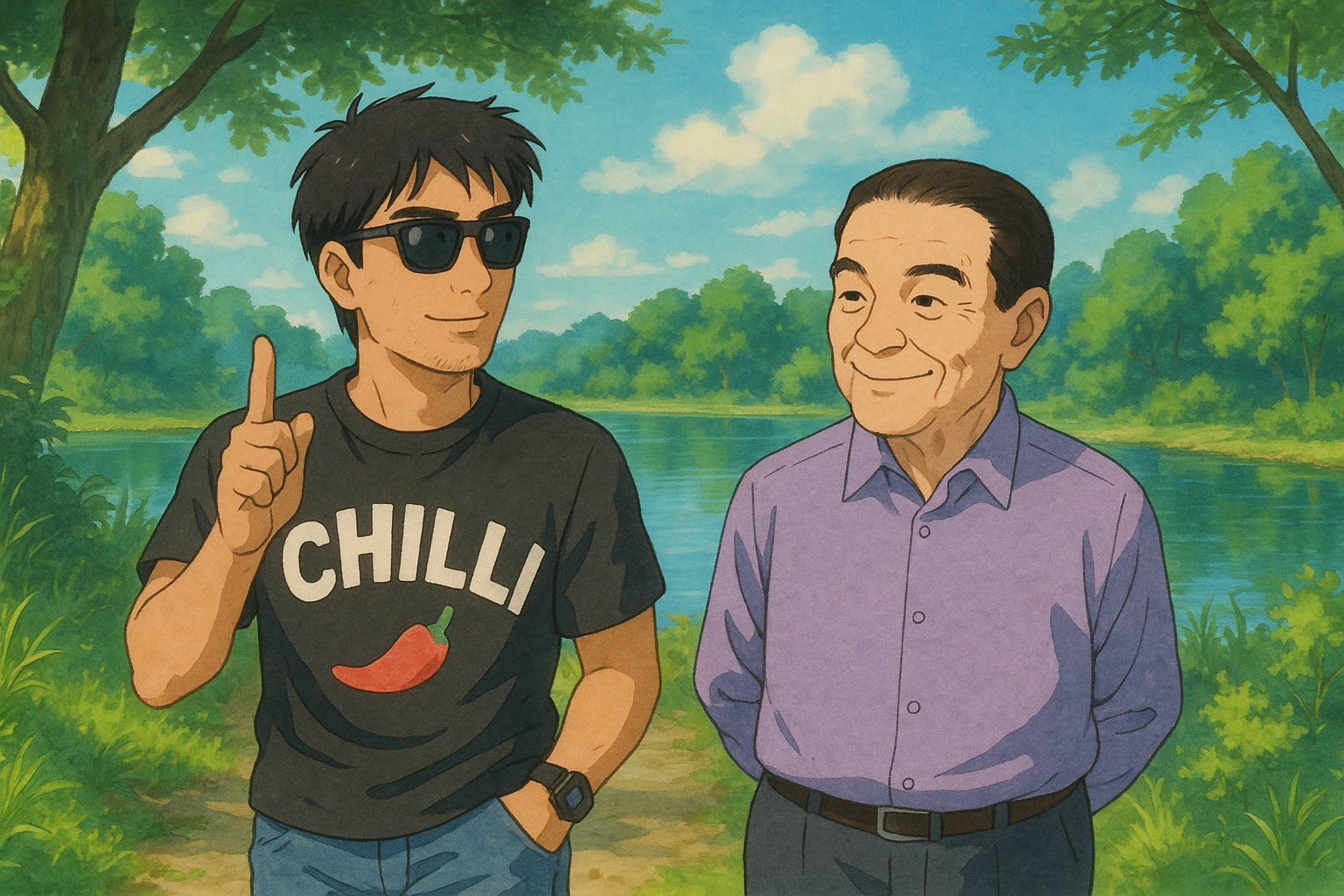Nunca estive diante de Divaldo Franco. Nunca o cumprimentei, nunca ouvi sua voz em um auditório, nunca recebi um passe em sua presença. E, ainda assim, me atrevo a dizer que fui tocado por ele — como se sua existência tivesse atravessado a minha alma em silêncio.
Divaldo não precisava estar perto para estar dentro. Em noites de angústia, bastava ouvi-lo. Sua voz — mansa, lenta, delicadamente firme — parecia não ecoar nos ouvidos, mas nas frestas mais íntimas do espírito. Ele não falava de religião como sistema, nem de fé como exigência. Falava como quem acabara de escutar Deus sussurrando dentro da dor de alguém.
Ao longo de sua vida, Divaldo construiu pontes. Entre mundos, entre planos, entre pessoas. Fundou, em Salvador, a Mansão do Caminho, que acolheu e educou mais de 40 mil crianças em situação de vulnerabilidade. Não era só filantropia. Era evangelho posto em prática. A caridade ali não era slogan — era sopa, era colo, era alfabetização, era afeto.
Morreu aos 98 anos, com a serenidade de quem viveu muito e bem. A causa foi falência múltipla dos órgãos, agravada por um câncer na bexiga. Mas ninguém que o tenha ouvido uma vez será capaz de falar em “fim”. Divaldo não teve uma carreira — teve uma missão. E quem tem missão, permanece.
Ele psicografou mais de 250 livros, traduziu os ensinamentos do espírito Joanna de Ângelis, visitou mais de 60 países, discursou na ONU, atravessou décadas de um Brasil em ebulição sem jamais usar a fé como palanque. Enquanto tantos buscavam o milagre, ele oferecia o gesto. Enquanto tantos gritavam em nome de Deus, Divaldo sussurrava — e com isso, curava.
Não era um homem que se impunha. Era um homem que ouvia. E há algo de profundamente divino na escuta. Ele ouvia como quem sabe que o outro também é templo. Suas palavras não convertiam. Consolavam. Divaldo tinha o raro dom de transformar o óbvio em revelação. Quando falava da morte, ela deixava de parecer castigo. Quando falava da dor, ela parecia suportável. Quando falava do amor, tudo fazia sentido.
A espiritualidade que ele oferecia não era feita de promessas. Era feita de presenças. Em cada órfão acolhido, em cada jovem libertado da miséria, em cada abraço sem câmera, havia algo sagrado. Não por acaso, tanta gente que nunca pisou em um centro espírita hoje o reverencia.
Eu fui um desses. Nunca me declarei espírita. Minha fé, como a de tantos, é feita de remendos, vazios e sustos. Mas Divaldo me ensinou que é possível orar sem rezar, que é possível servir sem ser visto, que é possível crer mesmo quando se está em dúvida. E isso me bastou.
Quando o mundo parecia ruir, Divaldo era uma espécie de lugar. Um lugar onde era possível descansar a alma. Sua fala devolvia ao espiritual o que o institucional tomou: a simplicidade.
Acredito que sua maior herança não está nas páginas que psicografou, nem nos prêmios que recebeu, mas naquilo que despertou em quem o ouviu. Ele devolveu humanidade à fé. Devolveu doçura à religiosidade. E, num país em que líderes espirituais tantas vezes confundem púlpito com poder, Divaldo se manteve ponte.
Hoje, seu corpo é velado na Mansão do Caminho, com o mesmo silêncio que ele cultivou em vida. Não há desespero. Há gratidão. O luto de quem o amou é um agradecimento.
Fabrício Correia é escritor, historiador e apresentador. Integra academias literárias e é colunista da Gazeta Popular da RMVale. Desenvolve projetos ligados à cultura, espiritualidade e educação.