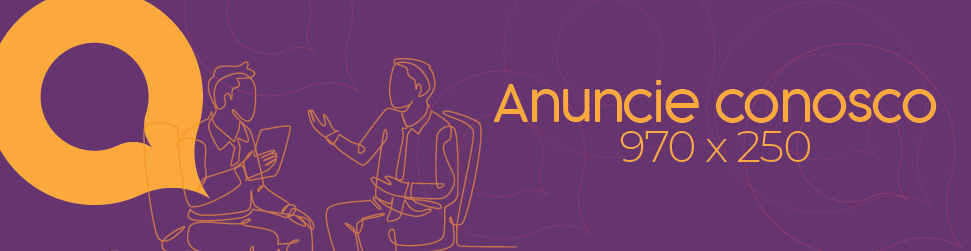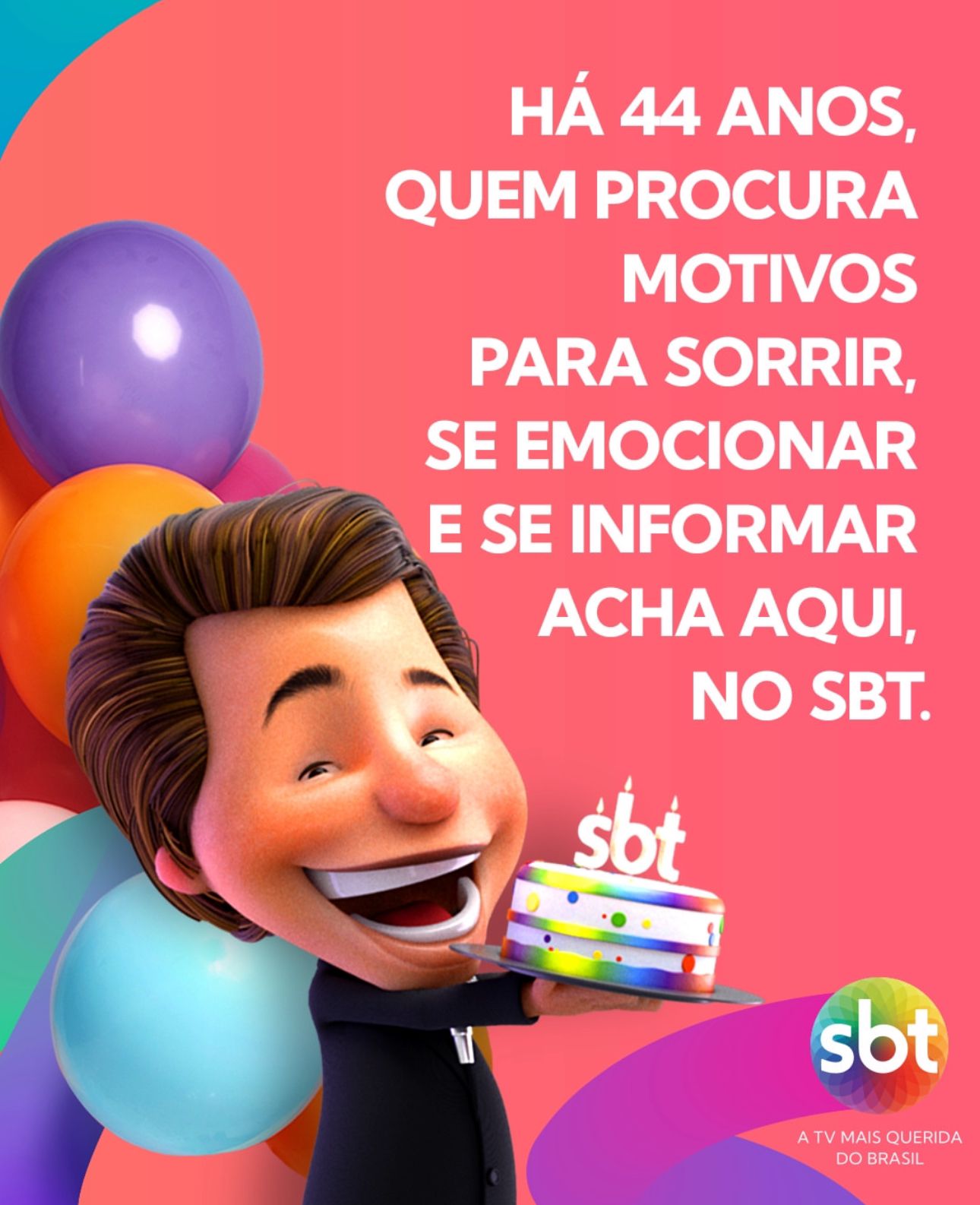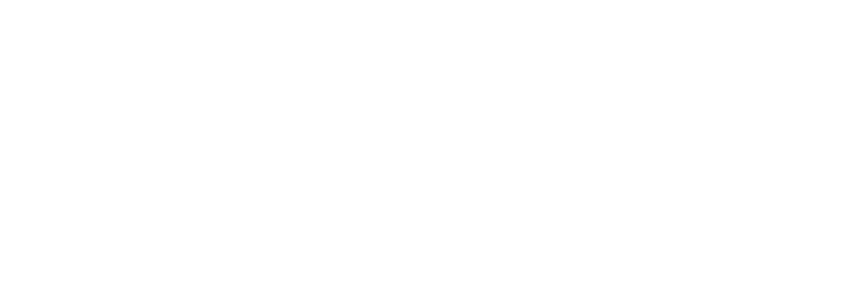Foi durante o programa “Gente”, da plataforma Veja+, que o ator e diretor Wolf Maya lançou ao ar, quase como quem respira, uma das frases mais interessantes da temporada: “Sou mais homoafetivo do que homossexual”. A entrevista seguiu adiante, mas a frase ficou — reverberando nos corredores de nossa escuta pública como um convite a repensar o vocabulário com que nomeamos o amor, o desejo e os modos de estar com o outro.
Na condição de professor e pesquisador das relações humanas, identidades contemporâneas e pedagogias da diversidade, reconheço nesse enunciado um deslocamento epistemológico silencioso e potente. Maya não está se negando, tampouco se explicando — ele está, ao contrário, alargando o campo semântico do afeto. Está pedindo menos enquadramento e mais presença.
A distinção entre “homoafetividade” e “homossexualidade” não é apenas semântica. Ela tem implicações ontológicas e políticas. A palavra homoafetivo, cunhada e difundida a partir do campo jurídico brasileiro nos anos 2000 para reconhecer uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, carrega uma delicadeza fundamental: coloca o afeto no centro da equação. E quando o afeto está no protagonismo, o corpo não é mais apenas desejo — é espaço de vínculo, é cuidado recíproco, escuta, tempo compartilhado.
Na psicanálise, Donald Winnicott — pediatra e psicanalista inglês — nos oferece uma chave fundamental para esse entendimento. Em seu livro “O Brincar e a Realidade” (1971), afirma que “é no brincar, e apenas no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e usar a totalidade da sua personalidade, e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o self”. A frase é um marco. Porque o brincar, aqui, é espaço intermediário — nem só interno, nem só externo. Um espaço relacional, como o amor. E talvez, como o homoafetivo de Wolf Maya.
Quem ama pelo afeto não ama menos, ama diferente. Ama com a presença do cuidado e com a ausência da pressa. Ama como quem ouve, não como quem consome.
Num mundo onde a identidade é frequentemente performada no palco das redes, onde o desejo é algorítmico e a afetividade é frequentemente descartável, a frase de Wolf Maya se impõe como contracorrente. Ela nos força a lembrar que o orgulho LGBTQIA+ — que celebramos neste mês de junho — não é apenas uma festa estética ou uma revanche política. É também uma pedagogia.
Uma pedagogia do afeto, do vínculo, da escuta, da liberdade em relação à norma. E, como toda pedagogia, ela precisa ser ensinada. Não como doutrina, mas como possibilidade. Na escola, na mídia, na arte, nas famílias e nas relações cotidianas. Precisamos educar para o amor com o mesmo empenho com que ensinamos cálculo ou gramática. Educar para a ternura, para o dissenso respeitoso, para o encontro entre corpos que não precisam se definir para se tocar.
Maya, ao afirmar sua homoafetividade, aponta um caminho não binário, não patologizante e não reducionista para entender o amor entre pessoas do mesmo sexo. Não é uma negação da homossexualidade, mas uma complexificação necessária. Ele afirma um desejo com nome e sobrenome: afeto.
Encerrar o mês do orgulho com essa reflexão é, portanto, reconhecer que a luta LGBTQIA+ não é apenas por visibilidade ou direitos civis — é por novas formas de existir com o outro. E para isso, talvez devamos nos perguntar menos “o que você é” e mais “como você ama”.
E que a resposta, quem sabe, seja mais humana do que qualquer rótulo pode conter.
Fabrício Correia é escritor, jornalista e professor universitário com especialização em Acessibilidade, Diversidade e Inclusão.