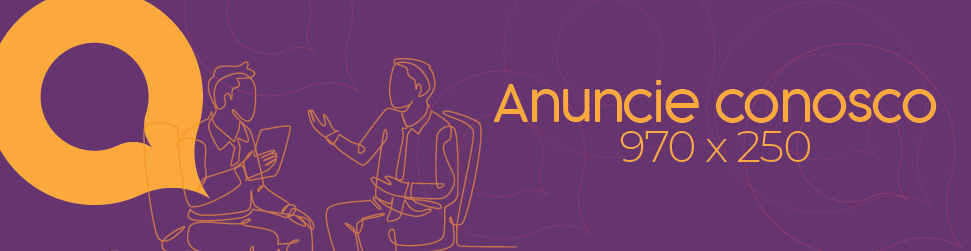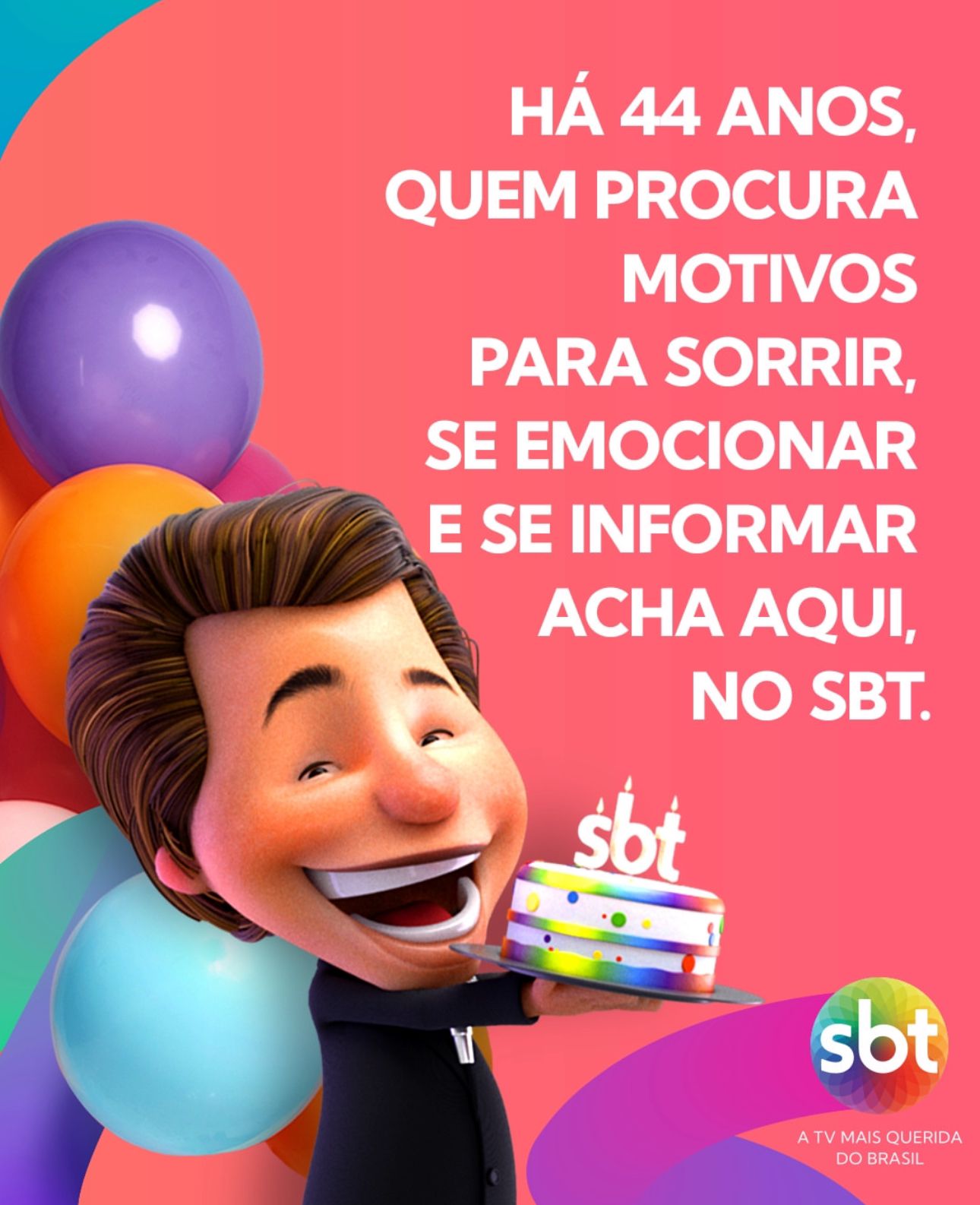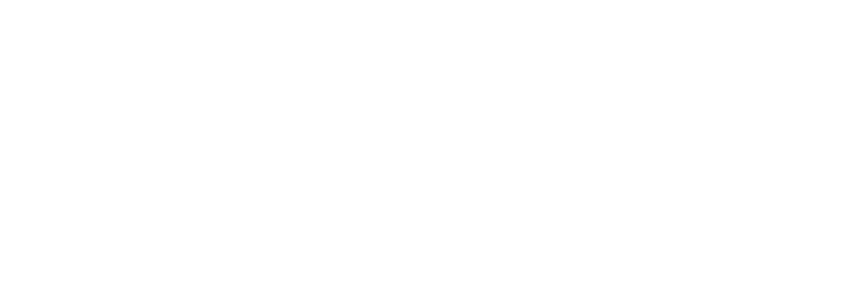No fim dos anos 90, ainda era possível aos estúdios de Hollywood financiar comédias românticas de duas horas e meia com personagens moralmente reprováveis, doenças reais, traumas não resolvidos, e diálogos em que as pessoas se machucam com frases bem escritas. “Melhor É Impossível” (As Good As It Gets, 1997), dirigido por James L. Brooks, pertence a essa linhagem crepuscular: o de um cinema popular que ainda acreditava que complexidade não era sinônimo de afastamento do público.
À primeira vista, o filme é sobre Melvin Udall, escritor de best-sellers sentimentais, interpretado por Jack Nicholson com um tipo específico de gênio que só envelheceu bem porque nunca pediu desculpas. Melvin é cruel. Não de forma espetacular, mas cotidiana. Crueldade doméstica, verbal, miúda. Machuca os outros para manter distância. Com TOC severo, vive numa rotina ritualizada que o protege do mundo e, acima de tudo, de qualquer forma de vínculo humano.
Mas o filme não é apenas sobre ele. É, sobretudo, sobre os que orbitam esse buraco afetivo. Carol (Helen Hunt), garçonete e cuidadora por vocação e exaustão. Simon (Greg Kinnear), artista sensível, homossexual, brutalizado pela própria fragilidade. Juntos, formam um trio improvável — não porque sejam diferentes, mas porque a vida já os treinou para evitar justamente esse tipo de proximidade.
O que impressiona em “Melhor É Impossível” não é a forma com que Brooks conduz a narrativa — segura, fluida, tecnicamente competente — mas o fato de ele permitir que as contradições respirem. Melvin é detestável, mas não é punido. Carol é exausta, mas não é heroína. Simon é doce, mas não é redimido. Todos eles se arrastam. O afeto não chega como redenção. Chega como trabalho. Como risco.
A grande frase do filme — “Você me faz querer ser uma pessoa melhor” — poderia, em qualquer outro contexto, ser a síntese da pieguice. Mas aqui ela funciona porque é dita por alguém que tem horror ao toque. Porque ser uma pessoa melhor, para Melvin, não é poesia. É terror.
Essa recusa ao sentimentalismo fácil afasta o filme das comédias românticas que o sucederam nos anos 2000. Basta comparar com “Simplesmente Amor” ou “P.S. Eu Te Amo”, onde os sentimentos são límpidos, as intenções transparentes e a dor é sempre reconfortada por algum arco narrativo reconfortante. Em “Melhor É Impossível”, não há catarse. O filme termina com duas pessoas andando pela rua. Nada muda no mundo. Apenas a disposição de não fugir mais um do outro. E isso, aqui, é o bastante.
Há também uma questão técnica que sustenta esse minimalismo ético. A direção de Brooks recusa adornos. A câmera observa, não seduz. A trilha sonora aparece nos momentos exatos — e nunca para emocionar, apenas para sustentar a presença do que está ali: uma cena, uma hesitação, um deslocamento. A montagem respeita o tempo dos silêncios, das pausas, dos desconfortos. Nada é apressado.
Jack Nicholson venceu o Oscar por esse papel. E merecidamente. Sua interpretação é um exercício de contenção agressiva. Ele não interpreta um homem tentando melhorar. Interpreta um homem tentando, com todas as forças, não enlouquecer diante da ideia de melhorar. Helen Hunt também venceu, e igualmente por um papel ingrato: o de quem carrega o outro nas costas, sem nunca se tornar vítima. Ambos sustentam um tipo de tensão que o cinema atual parece incapaz de construir — ou permitir.
O que permanece ao fim de “Melhor É Impossível” é uma pergunta incômoda: por que aceitamos tão facilmente a ideia de que amar é fácil, natural, instintivo? O filme responde com outra hipótese: talvez amar seja um esforço diário de contenção, um treino lento para suportar o outro como ele é — não como gostaríamos que fosse.
Talvez o título seja mesmo uma ironia. O melhor, aqui, é suportável. É possível. E só. Mas quando o mundo nos treinou para esperar o pior, isso já é quase um milagre.
Fabrício Correia é escritor, jornalista e crítico de cinema. Cinéfilo de carteirinha é musicoterapeuta com especialização em Vibroacústica.