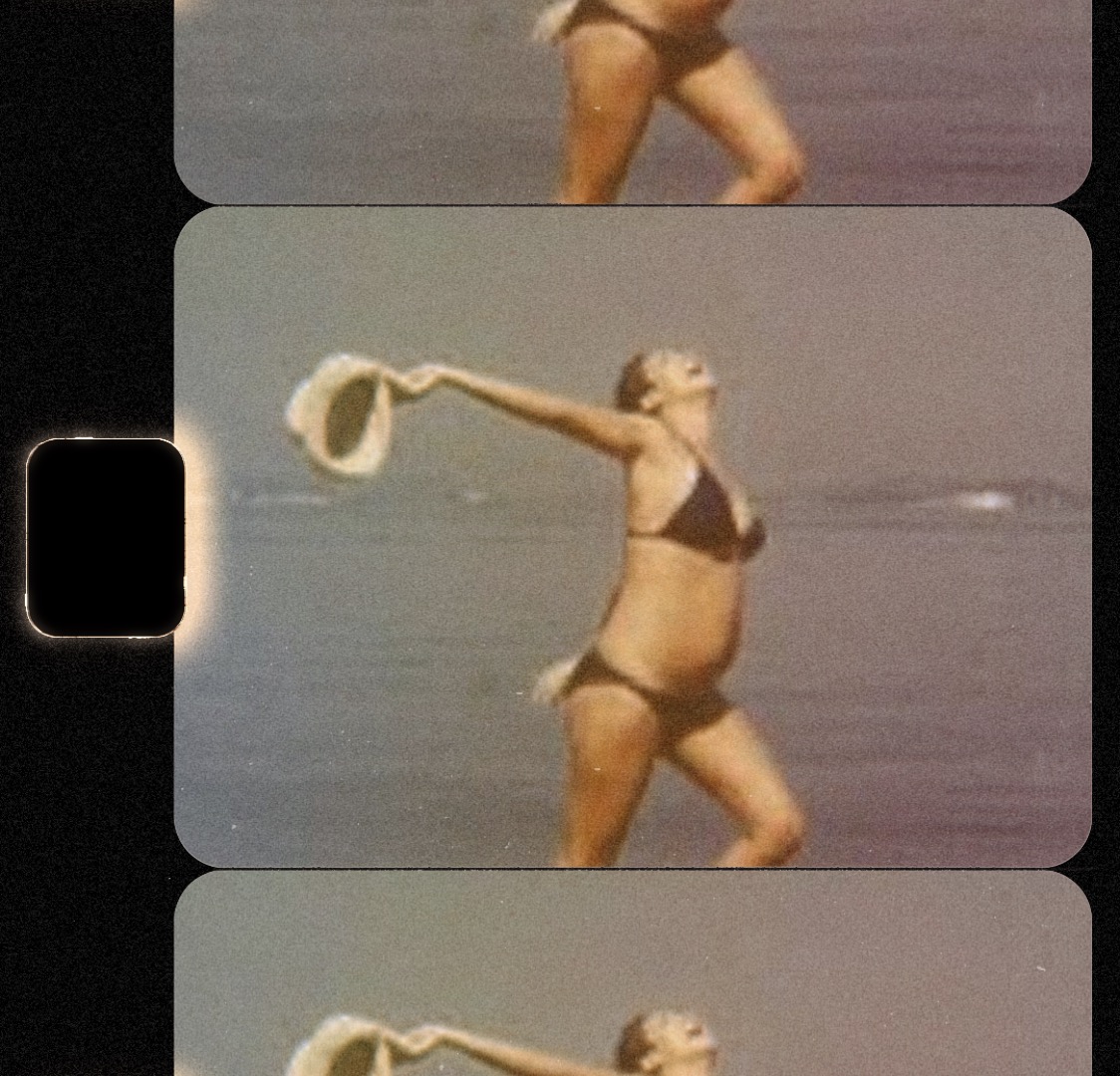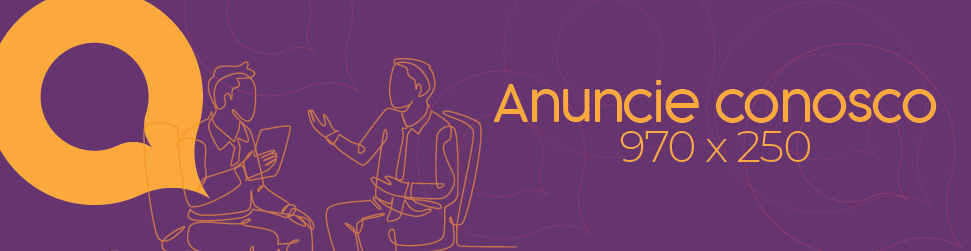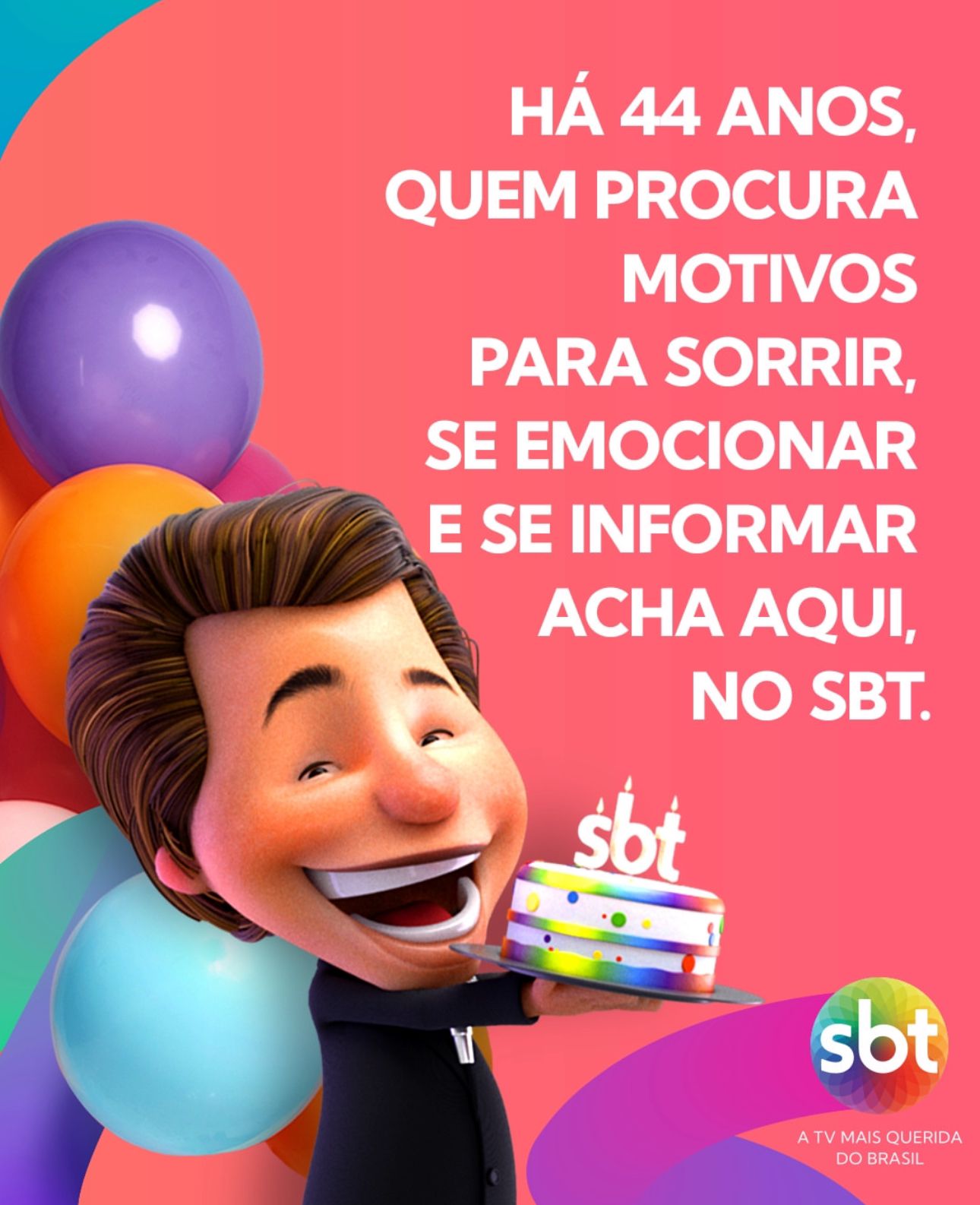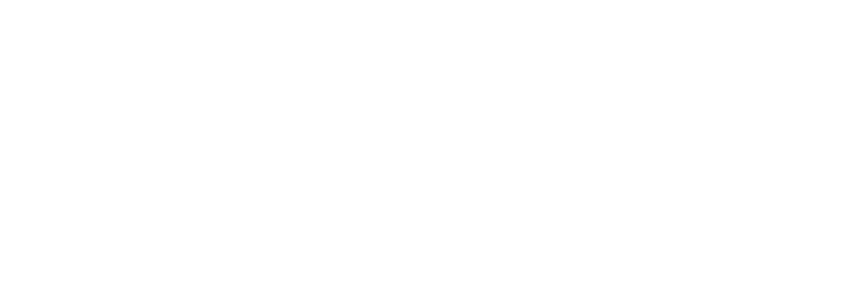Leila Roque Diniz nasceu em Niterói, no dia 25 de março de 1945, com o mundo ainda em escombros e o Brasil engatinhando rumo à modernidade. Era filha de um país que sempre oscilou entre o disfarce da decência e o medo da liberdade. Cresceu entre professores, livros e ruas calmas, mas desde cedo demonstrava que a ordem doméstica e os bons modos jamais seriam suficientes para contê-la.
Antes da fama, foi professora de crianças. E não é irrelevante que tenha começado a vida ensinando. Leila era, desde o início, uma pedagoga da desobediência. Quando chegou à televisão e ao cinema, já carregava em si uma urgência. Não queria apenas atuar. Queria viver. E viver, para ela, não incluía pedir desculpas.
O Brasil dos anos 1960 era um país de silêncios. As mulheres, principalmente as que ousavam existir fora da moldura, eram tratadas com desconfiança, ironia ou desprezo. Leila recusava as três opções. Dizia o que pensava, sem eufemismos. Amava com intensidade e sem hierarquias. Usava palavrões, não como provocação, mas como linguagem própria. Ria alto. Entrava em cena com uma força que não se ensaiava.
A entrevista ao Pasquim, em 1969, foi o momento decisivo. Disse o que o país inteiro fingia não viver: que se pode amar um e transar com outro. Disse com a tranquilidade de quem não estava cometendo crime algum — e, no entanto, parecia ter cometido todos. A reação veio com a velocidade dos regimes fracos: censura prévia à imprensa, instaurada no dia seguinte. O nome informal da medida foi impiedosamente preciso: Decreto Leila Diniz. Uma mulher havia falado. E o Estado respondeu com silêncio.
Fotografada grávida, de biquíni, na praia de Paquetá, para a revista Cláudia, escandalizou as famílias de sofá e missa. Mas o escândalo não estava na imagem. Estava no gesto: uma mulher grávida, feliz, à luz do dia, exibindo o corpo que gerava, como se esse corpo fosse seu. E era. Pela primeira vez, o Brasil se deparava com uma mulher que não associava a gravidez ao recato, nem à clausura.
Na televisão, protagonizou novelas como “Ilusões Perdidas”, “Anastácia, a Mulher Sem Destino” e “O Sheik de Agadir”. No cinema, participou de títulos como “Todas as Mulheres do Mundo” (1967), “Fome de Amor” (1968), “Azyllo Muito Louco” (1970) e “A Madona de Cedro”. Mas Leila era maior do que qualquer personagem. Mesmo quando limitada pelos roteiros, sua presença ultrapassava o texto. Estava viva demais para caber num papel.
No teatro, brilhou em “Tem Banana na Banda”, revista tropicalista que tinha textos de Millôr Fernandes, José Wilker, Luiz Carlos Maciel e Oduvaldo Vianna Filho. Recebeu de Virgínia Lane o título de Rainha das Vedetes. No Carnaval de 1971, foi coroada Rainha da Banda de Ipanema. Não por estratégia de marketing — por aclamação pública.
Foi punida por ser quem era. A TV Globo não renovou seu contrato. A justificativa — que não haveria papéis de prostituta nas próximas novelas — permanece como registro do tipo de violência que se perpetua com aparência de argumento. Leila foi exilada sem sair do país. Pagou por viver de maneira indomesticável.
Acusada por setores da esquerda de ser alienada, e por conservadores de ser devassa, caminhava por fora das categorias disponíveis. Não era feminista de cartilha — era uma mulher livre. Isso sempre foi mais perigoso. O Brasil não sabia onde colocá-la. E, quando não sabe onde encaixar uma mulher, o país a marginaliza.
Em 14 de junho de 1972, Leila morreu num desastre aéreo em Nova Délhi, aos 27 anos. Voltava da Austrália, onde participara de um festival. A tragédia levou também outros passageiros, mas foi seu nome que atravessou o Atlântico em estado de luto. Sua filha, Janaína — a quem tive o prazer de conhecer nos festivais de cinema da vida — ficou órfã de mãe e símbolo. Foi criada por Chico Buarque e Marieta Severo, amigos e cúmplices de um Brasil que resistia.
Carlos Drummond de Andrade escreveu, em crônica definitiva: “Sem discurso nem requerimento, Leila Diniz soltou as mulheres de vinte anos presas ao tronco de uma especial escravidão.” Drummond não exagerava. Apenas reconhecia.
Leila não virou santa. Virou ausência. E nenhuma homenagem será suficiente, porque Leila não é homenageável. É irrespirável. Não cabe no busto nem na estátua. Está viva onde o país ainda resiste em ser autoritário. Está presente onde as mulheres ainda não aceitam ser caladas.
Passados oitenta anos de seu nascimento, ela permanece perigosa. Porque segue ensinando, com a vida que viveu — e com a morte que o Brasil precipitou — que a liberdade não se pede. Vive-se. E paga-se por ela. Leila pagou com tudo.
E ainda assim, venceu.
Fabrício Correia é escritor, crítico de
cinema, jornalista, historiador e professor universitário. Presidiu a Academia Joseense de Letras e integra a União Brasileira de Escritores – UBE e a Academia Brasileira de Cinema. É CEO da Kocmoc New Future, responsável pela agência de notícias, “Conversa de Bastidores” e o portal de entretenimento “Viva Noite”. Apresenta o programa “Vale Night” na TH+ SBT.